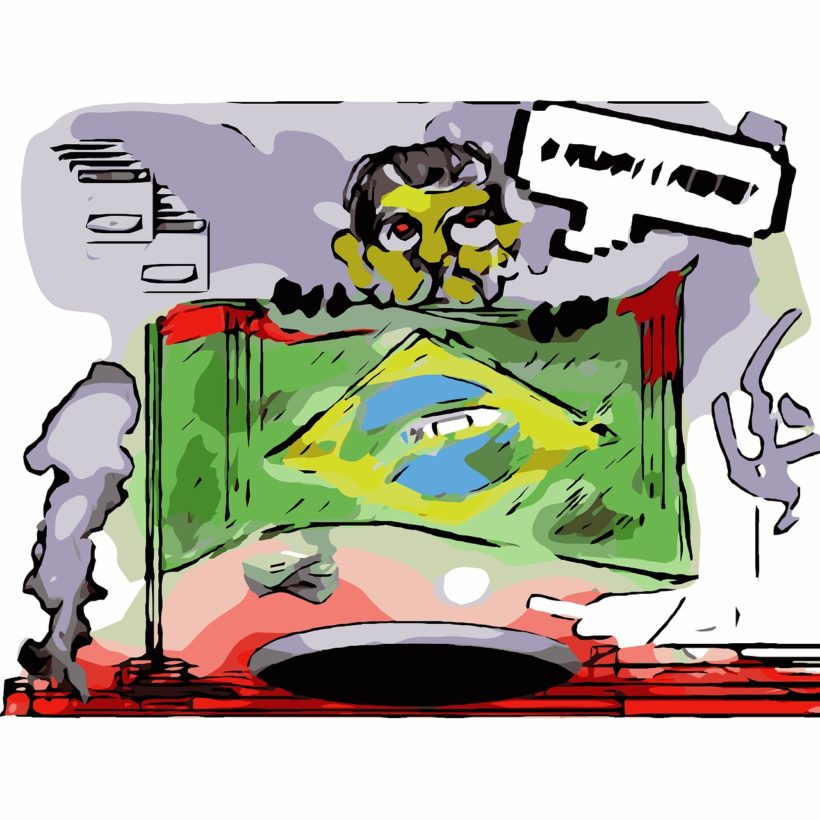OPINIÃO
Por Prof.ª Erica Almeida
No Brasil, os interesses do grande latifúndio conduziram, por muitos séculos, a agenda de prioridades do Estado. Dentre elas, destacam-se a manutenção da escravidão até final do século XIX, a ausência de direitos trabalhistas no campo durante quase todo o século XX e, mais recentemente, um conjunto de violações dos direitos trabalhistas e sociais e o crescimento do trabalho em situação análoga à escravidão no campo e na cidade. Isso, sem conta a informalidade de mais de 70% do emprego doméstico.
A articulação entre as oligarquias agrárias, os banqueiros e grande parte do empresariado, a partir de 2013, não só deu sustentação política ao impeachment de Dilma Rousseff, como também, às Reformas Trabalhista e Previdenciária que penalizam aqueles que vivem do trabalho, particularmente, os mais pobres. Como se não bastassem os ataques aos direitos do trabalhador, transformado em uma “mercadoria” completamente desvalorizada, a política ultraneoliberal dos governos que se sucederam continua avançando, por intermédio dos grandes investimentos econômicos, sobre os territórios indígenas e quilombolas, sobre a terra dos camponeses, os mares e rios dos pescadores artesanais, colocando em risco a reprodução social dessas comunidades tradicionais e do ambiente em escala local, nacional e planetária e, com ele, a sobrevivência da humanidade.
Considerada uma dimensão estrutural da experiência imposta pelo colonialismo europeu, a escravidão funcionou como um elemento de classificação e hierarquia entre aqueles que tinham humanidade e os que não gozavam dessa mesma humanidade, sustentada pela ideologia da supremacia branca e do racismo. O fim do terror da escravidão não foi capaz de pôr fim à violência institucional contra os negros. A violência e o racismo abrigados nas instituições do Estado Republicano moldaram o seu modo de agir, sobretudo contra as parcelas pobres e negras. Essas práticas sociais não tiveram outra intenção senão a de desqualificar e silenciar o povo preto e, com ele, toda a sua cultura, tradição, fazeres, saberes, crenças e religiosidades; aliás, um direito dos brancos europeus desde o século XVIII.
Sem nenhum apoio de políticas públicas voltadas para a sua integração econômica e social, os recém- “cidadãos” foram obrigados a se “virar” em um mundo hostil e racista e a se sujeitar aos piores trabalhos e remunerações, com moradias indignas e, quase sempre, com a experiência do estigma, da violência policial e do encarceramento. A partir dos anos de 1950, a expulsão dos trabalhadores do campo criou os “boias-frias”, trabalhadores rurais precarizados e empobrecidos e, agora, residentes nas periferias das cidades. Mais uma vez, sem apoio de políticas públicas, esses trabalhadores se responsabilizaram, sozinhos, pela sua moradia, geralmente autoconstrução, e pelo “sustento” dos filhos.
As cidades reproduziam, no seu cotidiano, as desigualdades de classe, acrescidas do racismo estrutural, racializando os espaços urbanos e forjando periferias completamente desprovida dos direitos de infraestrutura urbana e de um conjunto de bens e serviços coletivos materiais e imateriais. Marcada pela segregação socioespacial e racial, a cidade de Campos, outrora campos dos índios Goytacazes, se desenvolveu mantendo um conjunto de desigualdades no acesso à terra, à renda e aos direitos sociais, políticos e culturais. Esse cotidiano de “faltas”, que costuma caracterizar as periferias, ainda compõe a paisagem da cidade, aprofundando o abismo social e racial e penalizando milhares de famílias de trabalhadores que ainda vivem à margem do emprego decente.
Passados mais de 30 anos da Constituição Cidadã, que incluiu um conjunto de direitos no texto constitucional, as práticas sociais, particularmente, as ações institucionais, caminham em direção contrária `CF de 1988, sobretudo nos espaços socialmente estigmatizados. Percebidos como lugar de “bandido”, os lugares dos trabalhadores pobres e negros foram transformados em lugar de “gente perigosa”, passando a justificar não apenas a ausência de um conjunto de instituições e ações relativas à proteção social e à garantia dos direitos constitucionais, mas, também, a presença ostensiva e violenta de outras instituições e ações governamentais.
Essa incapacidade do Estado, por intermédio das suas instituições, de proteger a todos e todas, sem distinção de classe, raça e/ou etnia e gênero, não constitui um problema de orçamento e nem, tampouco, de recursos humanos, ainda que esses problemas estejam presentes em todas as áreas do Estado. Ele é resultado da ausência de reconhecimento institucional da condição de cidadão do trabalhador pobre brasileiro. Essa recusa vai mais longe quando nega a humanidade aos homens e mulheres negros, particularmente aos jovens, vistos como aqueles que não são dignos de viver. Esta postura não se restringe às instituições do Estado; ela vem ganhando legitimidade também na sociedade civil, patrocinada por aqueles que participaram ativamente do Golpe de 2016, e do processo de destruição dos direitos trabalhistas e que continuam operando contra o emprego, a saúde, a educação e a assistência social, políticas públicas necessárias à grande maioria da população, e contra o ambiente, nosso maior patrimônio coletivo. As ações dos dois últimos (des) governos no que se refere às privatizações, ao des-financiamento das políticas públicas, aos ataques às instituições liberais e à Constituição de 1988, ao uso indiscriminado da violência institucional no enfrentamento dos movimentos sociais e à militarização da segurança pública resumem
um modus operandis em curso na resolução dos conflitos sociais e da sua “pacificação”, gerando um ambiente de medo e de insegurança e impondo um conjunto de desafios às lutas por direitos.
Nesse sentido, não se trata de indagar se as instituições estão funcionando, mas de problematizar as práticas institucionais, assim como, as suas relações e articulações com interesses privados e corporativos, alguns inconfessáveis. Isso nos faz pensar que a omissão na defesa intransigente dos direitos universais e de uma democracia participativa (que vá além das eleições de 4 em 4 anos), pode significar não só a ausência de republicanismo das nossas instituições “republicanas” tardias, mas, também, a subordinação de grande parte delas aos interesses e projetos dos novos “donos do poder” e a sua racionalidade. Uma racionalidade empresarial que vem se espraiando, cada vez mais, nas instituições “públicas” ou que ainda carregam esse adjetivo, e que transforma trabalhadores em empreendedores e cidadãos em consumidores e competidores. A possibilidade de um futuro, tão ameaçado, aparece nas ações dos movimentos sociais que resistem a essa destruição generalizada dos interesses comuns e da agenda por direitos coletivos. Ao resistirem, eles vão recuperando experiências de compartilhamento e construindo novos sentidos e novas sociabilidades, mais coletivas e solidárias. É nelas que devemos apostar!