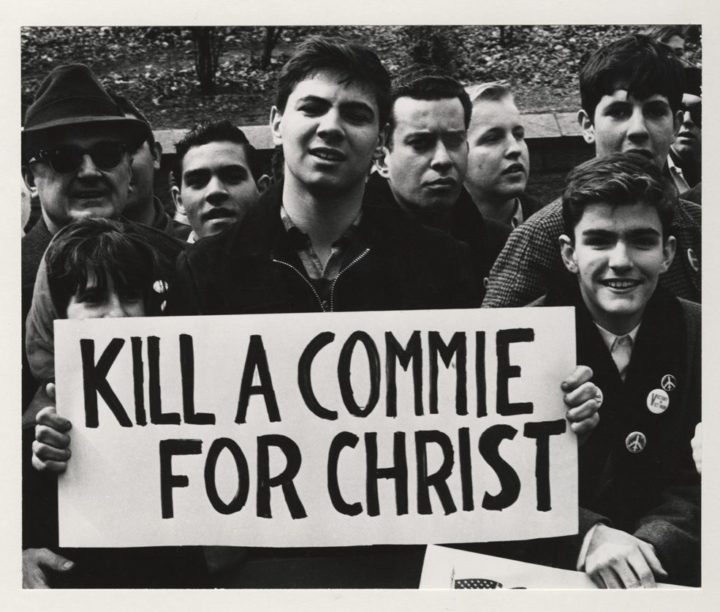O New York Times tem uma adoração pelo mais recente lançamento do gênero literário “War: How Conflict Shaped Us, de Margaret MacMillan”[1]. O livro se enquadra perfeitamente em um gênero literário crescente e cada vez mais exclusivo, que inclui Ian Morris e o seu War: What Is It Good For? Conflict and Progress of Civilization from Primates to Robots[2] (Morris mudou-se do Reino Unido para os Estados Unidos há décadas) e Neil deGrasse Tyson com o seu Accessory to War: The Unspoken Alliance Between Astrophysics and the Military[3].
De acordo com Morris, a única maneira de se alcançar a paz é construindo grandes sociedades, e a única maneira de construir grandes sociedades é promovendo a guerra. E, quando uma sociedade é grande o suficiente, ela pode descobrir como ignorar todas as guerras que está travando e alcançar um estado de felicidade. “Guerras entre os Estados”, como afirma Morris, sem comprovação alguma e sem notas de rodapé, “quase sumiram do mapa”. Estão vendo isso? Solenemente ignorado! Sabem o que também está desaparecendo da face da Terra, nas palavras do Morris? A desigualdade na distribuição de riqueza! Também não há crise climática que mereça preocupação. Além disso, as armas nucleares não podem mais nos matar — mas o Irã nos coloca a todos em perigo ao construí-las — no entanto, a “defesa” dos mísseis funciona! Todas essas notícias fantásticas são um pouco atenuadas pela garantia de Morris de que a Terceira Guerra Mundial está logo ali na esquina — a menos que no seu entendimento isso seja uma coisa boa — o que talvez aconteça, como Morris prevê, quando os programadores de computador fundirem os miolos de todos nós em cérebro único.
De acordo com o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, pelo fato de a Europa do século XVII ter investido em ciência, como consequência do seu esforço de guerra, apenas o meio militar será capaz de alavancar qualquer cultura e, portanto — o que é bastante conveniente — os astrofísicos estarão 100% justificados por trabalharem para o Pentágono e levarão o crédito por sonhar com um armamento militar que nos leve à “Força Espacial”.
Dentre os que tinham mais conhecimento em uma Era menos insana-por-guerra encontramos o Carl Sagan. Mas tão louco e autojustificativo como esse novo gênero literário possa ser, ninguém jamais o questionaria se as pessoas só ouvissem falar dele por tabela, mais especificamente pela mídia corporativa chapa-branca, pela academia ou pelas instituições que concedem os prêmios literários.
Ele nos diz que, na época de Teddy Roosevelt, a guerra foi uma coisa boa para nós, porque a partir dela se construiu o conceito de raça e com isso se acelerou a erradicação das raças inferiores. Essas razões pelas quais a guerra seria boa para nós não são mais consideradas aceitáveis, mas estão sendo substituídas por novas que são exatamente tão ridículas — e elas recebem exatamente tanto respeito quanto as antigas costumavam ser, pelo menos aqui, nos Estados Unidos.
Vejamos o livro de Margaret MacMillan, por exemplo, que não é tão idiota quanto o do Ian Morris, isso porque a maior parte dele é enrolação, ou conteúdo irrelevante. Uma pequena fração do livro vai direto ao ponto sobre a guerra-ser-uma-coisa-boa-para-nós. O restante do livro se preocupa em empilhar piadas curtas e prontas, em seções temáticas, que apresentam superficialmente todos os temas relacionados à guerra de sol a sol. Cabe ressaltar que o livro não faz conexão alguma que permita ao leitor construir qualquer argumento lógico a partir dos temas controversos apresentados, em um igualmente controverso espetáculo de bipartidarismo, vale dizer de polarização, que está deixando as pessoas enlouquecidas. Estariam Rousseau ou Hobbes certos sobre a “natureza humana”? Sim! Steven Pinker está certo ou errado, ao afirmar que a guerra está desaparecendo, mesmo que os fatos digam exatamente o contrário? Sim!
Fato é que nenhum desses livros sequer toca nos poderes da ação não violenta. Nesse novo gênero literário, como na “cobertura” de “notícias” nos Estados Unidos, ser engajado em debates sobre extermínio em massa é “fazer alguma coisa”. A alternativa é “não fazer nada”. Nenhum desses livros sequer examina as concessões econômicas mortais, os bilhões de vidas que poderiam ser beneficiadas pela redução dos gastos com a guerra, os danos climáticos da indústria da guerra, a justificativa de tanto sigilo governamental, a erosão dos direitos, a propagação do ódio, ou mesmo — e agora falando muito sério —os mortos e feridos gerados pela guerra.
MacMillan se propõe a dizer a uma sociedade absolutamente saturada pela cultura da guerra (e a um público leitor com quem ela pode contar previsivelmente para devorar página por página de puro fascínio pela guerra, sem nenhuma objeção ao tema) que — esperava por isso? — a guerra é uma coisa muito importante. Passando batida por cima desse ponto tremendamente controverso, MacMillan ainda consegue se perder, ao confundir a civilização ocidental ou mesmo a sociedade estadunidense com o conceito de “humanidade”. Quando a China investe em grandes projetos, apesar de não entrar diretamente nas guerras, aparentemente devemos pensar que o povo chinês não é humano, porque, de acordo com a MacMillan, apenas a guerra concentra a atenção das pessoas o suficiente para que elas concretizem algo de muito significativo.
E eis que MacMillan surge para nos livrar do perigo de a guerra ser deixada de fora do estudo da história — uma ameaça bizarra em uma terra onde os textos de história são geralmente dominados por uma guerra atrás da outra, isso sem falar nos monumentos de guerra, que já fazem parte da nossa paisagem cotidiana. A guerra não apenas é importante, como nos revela MacMillan, mas por meio dela se chega à educação e ao seguro de desemprego, bem como às “histórias” que as nações supostamente exigem para que possam se manter “coesas”.
MacMillan coloca no mesmo balaio mitos antigos, ficção e relatos históricos — e a mistura resultante, eu acho, vai para a conta dessas tais histórias. Mais ainda. Ela traz tudo isso para o tempo presente e afirma estar estabelecendo leis permanentes. “[F]ronteiras foram definidas pela guerra”. “[G]uerras trouxeram a reboque o progresso e, com ele, as mudanças… mais rigor na aplicação da lei e da ordem, … mais democracia, benefícios sociais, melhorias na educação, mudanças no papel das mulheres ou do trabalho, avanços na medicina, na ciência e tecnologia”. MacMillan faz coro com o outro autor, que argumenta que a guerra não é apenas um crime, mas “é também a punição de um crime”. Grandes nações, diz MacMillan, assim como Morris, “são, muitas vezes, frutos da guerra”. Baseando-se nos escritos de vários impérios antigos, MacMillan nos diz que as “grandes potências” “proporcionam um mínimo de segurança e estabilidade”. Depois de relatos mais do seculares de guerras, MacMillan nos diz que o mundo “retorna com surpreendente facilidade ao estado de anarquia proposto por Hobbes”.
Acontece que as guerras não estão servindo nem mais para definir as fronteiras, o que já não o fazem há quase um século. As guerras não estão criando nada de valor, que não pudesse ter sido mais bem produzido sem que elas ocorressem. Neil deGrasse Tyson pode até pensar que, somente criando um projeto sobre a guerra, conseguirá obter financiamento do governo estadunidense. O que ele não pode pensar é que esteja fazendo um tratado sobre a humanidade, mas sim sobre o governo dos Estados Unidos e sobre o próprio Neil deGrasse Tyson. Outro argumento que cai por terra é o de que a guerra sirva como punição para um crime. E olhe que isso já faz quase um século. A União Europeia não foi formada pela guerra, mas, sim, para evitá-la. Nenhuma “potência”, seja “grande” ou nem tanto, já não é capaz de proporcionar um mínimo de segurança, o que não é novidade, pois os açougueiros dos antigos impérios também não conseguiram prover mais nada a ninguém, e isso já vem desde os tempos imemoriais.
Não quero crer que a MacMillan nos tenha dito que o povo chinês não é humano. Mas ouça esta afirmação tão-familiar-senão-grotesca-e-genocida que ela faz em seu livro: “A Guerra Civil Americana provavelmente teve mais baixas do que todas as outras guerras americanas juntas”. Se os nativos americanos e filipinos e coreanos e alemães e vietnamitas e iraquianos e afegãos e assim por diante e sucessivamente são humanos, por que eles nunca foram computados como baixas? Por que a MacMillan afirma que os Estados Unidos só começaram a atacar fora de suas fronteiras no final do século XIX, se os índios americanos eram/são seres humanos? Por que ela afirma que uma guerra “quase que por acidente” “deu” aos Estados Unidos as Filipinas, se a grande massa de gente que os Estados Unidos tiveram que matar para tomar as Filipinas eram pessoas? Por que a destruição do Iraque por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos é apresentada como uma operação de araque, por ter sido baseada em uma estratégia equivocada? E se fosse o contrário? MacMillan apresentaria a destruição iraquiana dos Estados Unidos desse jeito? Por que ela afirma que o mundo atualmente testemunha as chamadas guerras religiosas, sem nomear uma delas sequer ou explicar o porquê dessa denominação?
Guerras, como a que foi travada contra o Iraque, afirma MacMillan, ganham seu próprio impulso. No entanto, os 535 membros do Congresso dos EUA poderiam optar por acabar com qualquer guerra a qualquer momento, mas entra legislatura sai legislatura, os congressistas optam por não sair da inércia. O lado humano está fazendo falta em qualquer livro escrito por um ser humano.
A guerra, como se fosse um organismo vivo, tal como a MacMillan quer que suponhamos, adquire vida própria. Mas como assim? Bem, MacMillan nos diz que “as provas parecem estar do lado” dos que afirmam que foram os seres humanos que fizeram as guerras, “até onde podemos afirmar”. Mas, voltando no tempo, até onde podemos afirmar isso? Quem saberá? O livro não faz menção exatamente a nenhuma evidência probatória e contém — tente contá-las! — zero nota de rodapé. É claro que a ideia de que a guerra sempre existiu e sempre existirá é lugar comum nos Estados Unidos, e é presumivelmente por isso que ela pode acontecer sem indícios ou provas, mesmo quando é apresentada como um ato de ruptura extrema.
MacMillan admite que os seres humanos perambulam por este planeta já faz uns 350.000 anos. Só que ela afirma que a guerra “se tornou mais sistemática” há uns 10.000 anos, argumentando que há comprovações não especificadas, que alegam que os seres humanos começaram a produzir armas lá pelo “final da Idade da Pedra” — o que nos leva a mensurar como algo em torno de 5.000 anos atrás, mais ou menos por aí (não esperem por dados numéricos). Tudo isso reforça o argumento de que alguns seres humanos, às vezes, fizeram alguma coisa parecida com as guerras que foram travadas há alguns séculos, por aproximadamente 3% da existência do homem na Terra ou, quem sabe, muito antes disso.
Sabemos pelos escritos de estudiosos como Douglas Fry que um caso pode ser levantado, citando exemplos específicos, a partir do fato de que houve sociedades nos últimos tempos que sequer sabiam o que fosse uma guerra, e que a maior parte da existência da humanidade pela pré-história transcorreu sem guerras. É difícil ponderar esse caso contra um argumento que não se baseia em comprovação alguma. Sabemos, olhando o mundo a nossa volta, que mais de 90% da humanidade é governada agora por Estados que investem infimamente menos na guerra do que os Estados Unidos. Sabemos que há muito pouca sobreposição entre territórios pelos quais os países entram em guerra — e geralmente são culpados por elas — e as regiões do planeta em que há países que produzem e exportam armas — uma indústria que, por motivos alheios a nossa vontade, está ausente desse tipo de literatura. Sabemos que a ganância, a autodefesa e as emoções infantis não podem explicar as guerras, como a MacMillan insiste em nos dizer, a menos que ela possa explicar por que os Estados Unidos têm muito mais dessas coisas do que outros países, e a menos que ela consiga explicar as teorias que dizem que construir bases militares, posicionar navios e se preparar para guerras seja uma das causas primárias das guerras (basta ler o livro de David Vine, que está saindo do forno, e que tem como título: The United States of War)[4].
Se os Estados Unidos reduzissem seu potencial bélico proporcionalmente ao de outras nações, em termos absolutos ou per capita, estaríamos no caminho certo para a erradicação das guerras. Mas aí surge esse novo gênero literário aqui nos Estados Unidos sobre a inevitabilidade e os benefícios da guerra (por que será que alguém pensa ser inevitável que realmente tenhamos que acreditar em benefícios?), parecem insistir em querer revisitar o termo “natureza humana”, que a essa altura parece ser irrelevante, como justificativa. Como é que 4% da humanidade podem definir o que é e sempre será humano?
A única natureza dos seres humanos, como Jean-Paul Sartre tentou explicar há um bom tempo, é ter o livre arbítrio — o que inclui ser capaz de, inclusive, fazer más escolhas e inventar desculpas para tentar justificá-las. Vamos supor que tudo o que os amantes da guerra nos dizem seja verdade. Vamos supor que a guerra existe há muito mais tempo do que alguém jamais imaginou. Vamos supor que os chimpanzés violentos sejam nossos meios-irmãos e irmãs, enquanto os amorosos bonobos sejam todos secretamente maldosos. Vamos supor que a não violência nunca funcionou. Vamos supor que ninguém nunca se incomodou em fazer nada ou inventar qualquer coisa, ou pensar qualquer coisa, a não ser como parte de uma guerra.
Sinto muito, mas por que logo eu deveria me importar se todas essas coisas fossem verdade? Como você faria para que eu me preocupasse com tudo isso? Se eu posso escolher não comer, fazer amor ou respirar, como você vai me convencer de que eu não posso escolher trabalhar para erradicar a guerra? E se eu posso trabalhar para erradicar a guerra, por que todo o mundo não pode fazer o mesmo?
Não há razão alguma, é claro, para que as pessoas não se engajem. O que há é apenas a sugestão, apenas mitologia barata e confusa; mera propaganda.
[1] NT.: Ainda sem tradução em português. A tirar pelo título, a autora convida os leitores a pensar como os seres humanos são moldados pelos conflitos, em um contexto de guerra.
[2] NT.: Também sem tradução em português. Aqui, o autor também aborda a guerra como algo bom para os seres humanos, traçando considerações sobre o conflito, desde os primatas (o início da civilização) aos robôs (uma referência a um futuro cada vez mais próximo).
[3] NT.: Mais um livro que busca olhar as vantagens de se ter que passar por guerras, pois como efeitos colaterais (accessory to war), ele parece traçar uma paralelo entre os avanços na Astrofísica como decorrência do seu emprego no campo militar, a ponto de estabelecer uma aliança entre as duas áreas de conhecimento.
[4] NT.: Os Estados Unidos da Guerra. O autor faz um intrigante jogo de palavras com o nome do país, substituindo a América pela Guerra.
Traduzido do inglês por José Luiz Corrêa / Revisado por Isabela Gonçalves